No Caderno 2 do Estadão de sábado, (25/1/14), Sérgio Augusto publicou uma de suas belas crônicas sobre o cinema, citando amplamente um livro editado pela Marco Zero – Suspeitos, de David Thomson – trad. José Eduardo Mendonça – 1992. Não é a primeira vez que Sérgio Augusto escreve sobre o livro, que certamente é um dos que ele curte bastante.

Diz o cronista que Suspeitos é “um misto de dicionário biográfico e ensaio ficcional (labirinticamente borgeano) sobre a realidade paralela do cinema”, e que o autor “inventou a metahistória do cinema”.
O texto do Sérgio Augusto me jogou na ladeira da memória, para a época em que vivemos um belo sonho de editora. A Marco Zero começou, lá pelo final dos anos 1970 com a Maria José Silveira, com quem sou casado. Acabamos reunindo alguns caraminguás, ajuda da família, muito especialmente do Otávio Silveira, irmão da Zezé, que generosamente fez uma contribuição fundamental para que o projeto pudesse existir.
A ideia era simples, como a de quase todos os idealistas que até hoje se dispõem a enfrentar a construção de uma editora: publicaríamos os livros de que gostávamos e que queríamos que outros também os desfrutassem. O nome, depois de muita conversa, veio do romance do Oswald de Andrade: Marco Zero. E dali começamos.
Alguns meses depois da editora se instalar, meu amigo de juventude, o Márcio Souza, que morava em Manaus, mudou-se para o Rio e se juntou ao projeto. Então já sabíamos que editaríamos os próximos livros do Márcio.
O sonho durou menos que vinte anos. Mas desenvolvemos, modéstia à parte, linhas fantásticas, tanto de ficção quanto de não ficção.
No primeiro momento, no entanto, não tínhamos literatura em mãos para publicar. Tivemos que aprender tudo na marra. Quero recordar aqui a ajuda da Rose Marie Muraro, que trabalhava na Vozes, na época. Rose Marie, que já tinha extensa trajetória editorial, foi de grande generosidade. Através dela conhecemos o pessoal da gráfica da Vozes que, assim como outros fornecedores também nos foram valiosíssimos: nos ensinaram a calcular e comprar papel, abriram porta de distribuidoras e livrarias. Foram, enfim, de uma imensa generosidade, e através deles é que conhecemos os rudimentos do fazer editorial.

E como não tínhamos literatura, começamos com não ficção. O primeiro livro que editamos foi o Lutas Camponesas no Brasil – 1980, resultado de um levantamento da CONTAG sobre os enfrentamentos do movimento camponês nos anos anteriores. O livro chegou às nossas mãos através do Moacyr Palmeira, nosso professor no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ. Lá fiz meu mestrado de Antropologia enquanto a Maria José fazia o de Ciências Políticas na USP, sob a orientação do Juarez Brandão Lopes. Com o Moacyr e com o Afrânio Garcia (de quem mais tarde publicamos a tese de doutorado – Sul, o caminho do roçado),  e com José Sérgio Leite Lopes (também publicamos seu livro seminal, A Tecelagem dos Conflitos de Classe, inspirado no trabalho de E. P. Thompson, sobre os trabalhadores de
e com José Sérgio Leite Lopes (também publicamos seu livro seminal, A Tecelagem dos Conflitos de Classe, inspirado no trabalho de E. P. Thompson, sobre os trabalhadores de 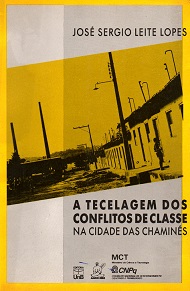 Paulista, em Pernambuco), participamos (eu principalmente), das mobilizações dos trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco, que resultou em uma série de greves no final dos anos 1970. Com Lygia Sigaud e José Sérgio Leite Lopes, participei do levantamento das condições para o surgimento da greve na Zona da Mata, que depois, além da grave, que é o mais importante, é claro, resultou no livro Greve nos Engenhos (Paz e Terra, 1980), da Lygia. Com essa equipe, que contava com mais colegas, professores e alunos do PPGAS, tivemos uma fecunda relação de amizade e trabalho.
Paulista, em Pernambuco), participamos (eu principalmente), das mobilizações dos trabalhadores da Zona da Mata de Pernambuco, que resultou em uma série de greves no final dos anos 1970. Com Lygia Sigaud e José Sérgio Leite Lopes, participei do levantamento das condições para o surgimento da greve na Zona da Mata, que depois, além da grave, que é o mais importante, é claro, resultou no livro Greve nos Engenhos (Paz e Terra, 1980), da Lygia. Com essa equipe, que contava com mais colegas, professores e alunos do PPGAS, tivemos uma fecunda relação de amizade e trabalho.
Nada mais natural, portanto, que a publicação de “Lutas Camponesas no Brasil – 1980”, fosse a estreia da Marco Zero.
Não pretendo fazer, aqui, a história da nossa editora. Só deslizar um tanto nessa ladeira da memória na qual a crônica do Sérgio Augusto me jogou.
Volta e meia leio nos jornais notícias sobre reedições de livros e autores que lançamos lá atrás. A Rocco, por exemplo, agora edita a obra da Margaret Atwood. A Marco Zero não apenas foi a primeira editora a lançar a obra dessa importantíssima autora canadense no Brasil. Foi a editora que primeiro publicou uma tradução da Atwood, em todo o mundo. Ela já havia sido editada no Canadá, nos EUA e na Inglaterra, e com muito prestígio. Mas a primeira tradução para outro idioma foi nossa. Madame Oráculo, traduzida pelo Domingos Demasi, foi lançada em 1984. E continuamos lançando todos seus livros até o final da editora. Karen Schindler, que era a agente representante dos direitos da autora, dizia que a mesma preferia continuar com quem a publicara primeiro. (Alguém que leia esta pode me dar notícias de d. Karen?).
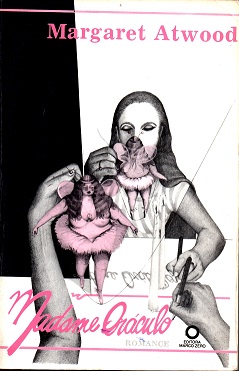
Mas a Atwood, que veio pelas mãos do Márcio, que a conheceu nos festivais do Harbour Front, em Toronto (não foi a FLIP nem o tal festival de Hay que inventaram festivais literários, meninos), não foi a única.
A Maria José garimpou em Frankfurt dois livros muito importantes para a editora. Como não tínhamos capital para participar das disputas de grandes autores, a solução era garimpar. O que a Maria José fazia muito bem, percorrendo os estandes internacionais da feira.
O primeiro a mencionar é A Cor Púrpura, de Alice Walker. Acabamos comprando o livro por uma ninharia (mesmo na época), pois a agente internacional não sabia nem que o Spielberg havia adquirido os direitos e muito menos que o filme já estava sendo produzido. Foi uma sorte enorme.
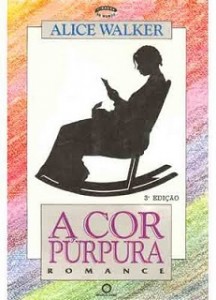
A tradução foi outro feito. Quando lemos o livro, pensamos no modo como traduzir as cartas de Celie, a personagem semianalfabeta. A Maria José, que já havia decidido fazer a tradução, recusava a possibilidade de traduzir o linguajar da
Celie para o que, no imaginário brasileiro, seria o linguajar “deteriorado”. No caso, o dos camponeses nordestinos. Ora, Celie era uma negra do Sul dos EUA, não uma nordestina. Essa transposição era evidentemente falsa. A solução foi “recriar” uma linguagem que de certa forma “mimetizasse” a situação de Celie. A Zezé, em umas férias em Santa Catarina, enfrentou a tradução com a ajuda de duas cunhadas, uma natural dos EUA, Peg Bodelson, e outra que havia morado muitos anos ali, Betúlia Machado. Dentro dessas diretivas, as três trabalharam e a Maria José deu o acabamento final. A qualidade dessa tradução já foi objeto de vários estudos acadêmicos. Para exemplificar, eis o link para um deles.
O livro fez um enorme sucesso. E foi também o objeto de uma de nossas grandes mancadas, por inexperiência: mandamos rodar uma tiragem muito grande quando o ritmo de vendas já dava indicações de diminuir. Resultado, o paradoxo: encalhe do sucesso.
A Cor Púrpura está reeditada pela José Olympio. Maria José ainda fez uma revisão final no texto da tradução para essa edição.
O segundo livro garimpado pela Maria José em Frankfurt também inclui sorte e dificuldades. O Dicionário Kazar, do então iugoslavo Milorad Pavitch, estava no estande da Iugoslávia. Maria José achou a ideia do livro fantástica e acabamos comprando os direitos mundiais para a língua portuguesa. Vejam só. Também por uma soma irrisória (que era o que podíamos pagar). Logo depois, quando a Knopf comprou direitos mundiais para o livro, a editora original teve que excluir o português, e a editora lusa que o publicou comprou nossa tradução.

Traduzir esse livro foi uma pauleira. Não achamos quem o traduzisse diretamente do sérvio e tivemos que usar a tradução para o inglês da Knopf. O tradutor foi o Herbert Daniel, recém chegado do exílio. No final, essa tradução foi confrontada com o original sérvio pelo prof. Aleksandr Jovanovic, da USP, e Maria Luíza Jovanovic traduziu alguns trechos do hebraico e do latim para ajudar os leitores. O romance tem duas “versões”, a masculina e a feminina, que diferem apenas em um parágrafo.
A edição (em duas versões), ficou muito bonita, com capa de Jorge Cassol, que fez vários trabalhos para a Marco Zero. Foi também um grande sucesso.
Anos mais tarde soubemos que o Pavitch se alinhou com os ultranacionalistas sérvios na guerra civil e sumiu na obscuridade daquela tragédia. Teve traduzido e editado aqui, pela Companhia das Letras, um livro de contos, (“A paisagem Pintada com Chá”), que não teve sucesso.
Ainda tenho muito a falar sobre a ladeira da memória em que a crônica do Sérgio Augusto me lançou. Mas fica para amanhã.

Também entrei na ladeira da memória com as minhas primeiras traduções corajosas de Daniel Chavarria, Miguel Barnet e (suprema ousadia) Alejo Carpentier. Deu saudades.
A ladeira da memória ainda continua, Bia.
Gostando muito de conhecer sua trajetória, Felipe, bem interessante pois valorizo bastante nosso trabalho como editores profissionais, especialmente nessa época de mudanças. Obrigada por reparti-las publicamente.